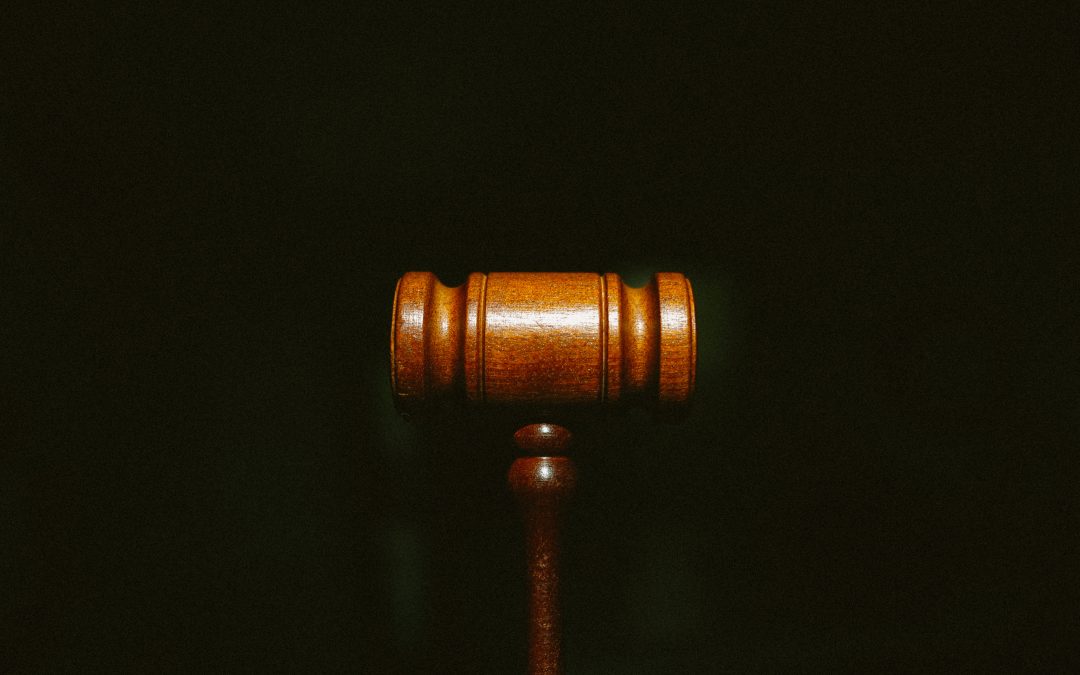por Marjorie Marona
Marjorie Marona
Fábio Kerche*
Uma versão deste artigo foi publicado no Le Monde Diplomatique Brasil
Em 2018, Bolsonaro se beneficiou eleitoralmente da agenda de combate à corrupção. A Lava Jato não apenas impediu a candidatura de Lula como também desestabilizou o sistema político, abrindo caminho para que um inexpressivo deputado chegasse à Presidência da República. Quase um mandato depois, a agenda da anti-corrupção se modificou.
Como um ilusionista, Bolsonaro desvia o foco ao repetir que em seu governo não há corrupção, quando, na verdade, o que falta é uma estrutura de controle e combate à corrupção. As denúncias atingem Bolsonaro e seus familiares mesmo antes do desembarque no Palácio do Planalto. O esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio persegue a clã há algum tempo. No governo, desde o primeiro ano, se acumulam. As denúncias mais pitorescas envolvem a compra de leite condensado, viagra e próteses penianas nas Forças Armadas. Mas há também acusações mais ortodoxas como as que envolveram o ministro do Turismo por suposto desvio de recursos por meio de candidaturas femininas laranja nas eleições de 2018; e as que atingiram o ministro do meio ambiente, acusado de dificultar a fiscalização ambiental e patrocinar interesses de madeireiros investigados por extração ilegal de madeira. Há, ainda, denúncias que atingiram o próprio presidente, particularmente em razão do chamado orçamento secreto, que chegou a ser objeto de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
A catastrófica gestão da pandemia de COVID-19 fez do governo alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado da República. Irregularidades associadas às negociações para compra da vacina indiana Covaxin embasaram o pedido de indiciamento do próprio presidente e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo. Denúncias de um esquema de propina envolvendo a compra de vacinas da AstraZeneca derrubaram o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.
Em 2022, o Ministério da Educação (MEC), substituindo a Saúde, tornou-se o epicentro de denúncias de corrupção. Uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) previa a compra de ônibus escolares superfaturados e um esquema de “escolas fake” foi desvelado. O chamado Bolsolão do MEC – que levou à prisão do então ministro Milton Ribeiro – marcou, contudo, a inflexão no discurso de Bolsonaro sobre a inexistência de corrupção em seu governo. O esquema de favorecimento de prefeitos no empenho de recursos em troca de propina, intermediado por pastores supostamente autorizados por Bolsonaro, obrigou o presidente a admitir que malfeitos pipocam em seu governo, apressando-se em se desvincular dos corruptos: “Se alguém faz algo errado, pô, vai botar a culpa em mim?”
Ainda pipocam os milhos resistentes. A verdade é que o arcabouço institucional de controle e combate à corrupção foi enfraquecido ao longo desses quase quatro anos de governo, mitigando o fenômeno. Bolsonaro sabe que quando se trata de corrupção, o tapete é a serventia da casa. O ainda presidente tem atuado no desgaste da institucionalidade democrática como um todo, incluindo aí estratégias que visam a reduzir a capacidade do Estado de dar respostas às ilegalidades cometidas pelos políticos aliados do governo.
O enfraquecimento do sistema de controle e combate à corrupção é uma agenda do governo Bolsonaro que tensiona o Estado de direito. As estratégias são variadas, passando pela imposição de sigilos, assédio institucional e captura de posições de comando, por exemplo; e dirigidas tanto para os órgãos de desvelamento e prevenção quanto para os de repressão à corrupção, incluídos aí os da justiça criminal. Se no passado recente, a Polícia Federal, o Ministério Público da União e o Poder Judiciário viram reforçada sua autonomia e a discricionariedade de seus membros, sofrem sob a gestão de Bolsonaro, com intervenções sistemáticas, embora nem sempre abertamente ilegais. Aos moldes de outras democracias em crise, Bolsonaro utiliza-se da lei contra a democracia.
A relação do governo com a Polícia Federal é um bom exemplo. Nos últimos anos, Bolsonaro trocou com frequência diretores-gerais e afastou delegados de posições estratégicas por meio de promoções. Nada de ilegal, embora sinalize sua disposição para intervir na PF, onde tramitam diversas investigações contra ele, incluindo a que apura atuação “direta, voluntária e consciente” do presidente no vazamento de informações sigilosas de inquérito que examina suposto ataque hacker às urnas eletrônicas em 2018.
Vale lembrar que a PF é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça que, embora goze de certa autonomia, está mais vulnerável às investidas – nem sempre republicanas – dos chefes do Executivo. A mesma facilidade, no entanto, Bolsonaro não encontra quando se volta para o Ministério Público e o Judiciário. Os níveis de autonomia e discricionaridade de que gozam os agentes de acusação e julgamento – promotores e magistrados – são constitucionais, de modo que as estratégias de desmonte da institucionalidade de controle e combate da corrupção, nesse ponto, tiveram de ser recalibradas.
Em face do Ministério Público Bolsonaro mobiliza aquilo que está ao seu alcance para proteger os seus interesses sem necessariamente descumprir deliberadamente com a lei e a Constituição. A indicação, e recondução, do Procurador-geral da República, que tem o monopólio da acusação criminal contra o presidente, assegura certa reserva contra investidas jurídicas em desfavor do chefe do Executivo. O presidente incentiva parcimônia do PGR em relação aos interesses do governo por meio de promessas de um novo mandato ou até de uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem funcionado com Aras.
O STF, por outro lado, tem sido o alvo preferencial dos ataques de Bolsonaro. Ali são processadas e julgadas as ações criminais que consigam furar o bloqueio do PGR. Em tempos de Aras, o STF – que ao longo do Mensalão e da Lava-Jato havia se acostumado a jogar ao lado do Ministério Público – se vê obrigado à catimba. A atuação – muitas vezes heterodoxa – do ministro Alexandre de Moraes vem colaborando para que o STF mantenha alguma capacidade institucional para atuar menos no combate judicial à corrupção; mais, contudo, na contenção das pretensões nada republicanas de Bolsonaro.
Em face do princípio da independência judicial, resta ao presidente operar nos limites da legalidade, contorcendo a institucionalidade. A indicação de Nunes Marques e André Mendonça são os escudos do presidente. No modelo atual, os poderes individuais dos ministros são exercidos em detrimento do colegiado, o que favorece a atuação dos dois calouros para minimizar as perdas do governo. Em paralelo, Bolsonaro avança uma estratégia de mobilização de suas bases buscando exercer pressão sobre o STF: discursos inflamados e ataques pessoais a ministros são insumo para a turba enfurecida.
Às tentativas de desmonte institucional, Bolsonaro agrega a estratégia de buscar blindar seu governo do ponto de vista político. A entrega do controle do orçamento secreto para o Centrão, sob direção do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o coração desse movimento. Se o PGR é responsável pelo oferecimento de denúncias no campo criminal, é o empoderado presidente da Câmara que pode autorizar o prosseguimento do processo de impeachment para crimes de responsabilidade.
O desmonte da institucionalidade do controle e combate a corrupção adensa o processo de autocratização capitaneado por Bolsonaro desde que chegou à Presidência. Também por isso, às vésperas da eleição de 2022, preocupa. Não há razão para qualquer otimismo em relação a um eventual segundo mandato. O discurso e a prática de Bolsonaro nestes últimos anos nos autorizam a prever mais ataques à institucionalidade democrática, assim como um reforço da blindagem do presidente de seu entorno em face de qualquer controle público. O presidente eleito pelo discurso anticorrupção corrompe a democracia brasileira à luz do dia.
* Marjorie Marona é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Fábio Kerche é professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
São autores do livro A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil (Autêntica, 2022).

por Marjorie Marona
Ministros têm atuado de modo organizado diante do conjunto de ameaças que o ecossistema de desinformação e a violência política associada representam para o processo eleitoral
Marjorie Marona*
Vitor Marchetti**
Fábio Kerche***
Publicado Nexo Jornal
O crescente protagonismo da Justiça Eleitoral brasileira na consolidação de nosso regime democrático tem chamado a atenção para o desempenho do Poder Judiciário e do Ministério Público – atores que não figuravam nos reiterados debates sobre a reforma do sistema político no Brasil. Isso em um contexto em que talvez nada seja mais instável na democracia brasileira do que as suas regras eleitorais, em boa medida em razão da atuação da própria Justiça Eleitoral.
Explica-se: embora algumas regras estruturantes da competição política eleitoral sigam intactas até o momento, há inúmeras e frequentes mudanças que foram gerando a necessidade de reacomodação e readaptação dos partidos e dos políticos. Parcela significativa dessas transformações é consequência de uma postura ativista – e reformista – por parte dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A verticalização das coligações (2002), a redução do número de vereadores (2004), a anulação dos efeitos da cláusula de barreira (2006), a fidelidade partidária (2008) e a proibição do financiamento eleitoral por empresas (2016), são bons exemplos de alterações promovidas via Judiciário.
De fato, o nosso modelo de governança eleitoral combinou alguns elementos que permitiram à autoridade judicial atuar quase como um legislador, um rule making no processo eleitoral. E o TSE tornou-se, na prática, um órgão do STF para matéria eleitoral, agregando status constitucional à parte considerável das discussões jurídicas sobre a competição eleitoral. A partir daí, o protagonismo partilhado pelo TSE e pelo STF na agenda eleitoral só faz crescer.
Atualmente, o universo de ações em matéria eleitoral que tramitam no STF compreende um total de 258. Desses, 118 se referem ao controle concentrado (ADIs – Ações Diretas de Inconstitucionalidade – e ADPFs – Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental) e 140 são oriundos do controle difuso de constitucionalidade ou, ainda, das competências originárias da Corte. Para além do volume, a variedade de temas em discussão mostra a amplitude da agenda eleitoral no STF, o que indica a disposição de judicialização da disputa eleitoral e do exercício do mandato, tanto pelos partidos políticos e seus candidatos, quanto pela Procuradoria-Geral da República. A agenda abarca discussões sobre candidaturas (normas de registro e financiamento), passando pelas regras eleitorais (cláusulas de barreira, de desempenho e crimes eleitorais), até às condições para exercício e manutenção do mandato (crimes de responsabilidade, suspensão de direitos políticos, vacância de cargo eletivo, dentre outros temas). Soma-se à agenda eleitoral do STF discussões em torno dos virtuais impasses que o caráter nacional das recém-criadas federações deverá impor às alianças estaduais.
A atuação siamesa entre TSE e STF deve ser ainda mais destacada no pleito de 2022. A verdade é que desde as eleições de 2018 os ministros do STF que revezam assento no TSE, assumindo sua presidência alternadamente, organizaram uma coalizão cujos efeitos podem ser sentidos em diversas dimensões do desempenho da Justiça Eleitoral. Fux, Rosa Weber, Barroso, Fachin e, finalmente, Alexandre de Moraes, têm atuado de modo organizado diante do conjunto de ameaças que o ecossistema de desinformação e a violência política associada representam para o processo eleitoral e, consequentemente, para a vitalidade da democracia brasileira.
Alternando investidas mais ou menos contenciosas, a coalizão de ministros do STF – que conta com eventual adesão da Corregedoria-Geral Eleitoral – assume estratégias que por vezes parecem desencontradas, mas que refletem o ambiente de tensão institucional que o ainda presidente – e candidato à reeleição – Jair Bolsonaro faz questão de sustentar. Diante da campanha aberta de difamação do sistema eleitoral, liderada pelo Palácio do Planalto, o TSE reagiu duramente, instaurando, por exemplo, um inquérito administrativo contra Bolsonaro. Simultaneamente, o tribunal vem ampliando os canais de diálogo com setores da sociedade e das Forças Armadas, através da Comissão de Transparência Eleitoral.
As grandes questões que as eleições gerais de 2022 colocam para a Justiça Eleitoral parecem bem desenhadas: fake news e violência política, que se interconectam no ataque antidemocrático às instituições e na proliferação dos discursos de ódio. As estratégias de enfrentamento a elas dependem, em parte, da mobilização dos candidatos e seus partidos e do Ministério Público, facilitada pela multiplicidade de recursos jurídicos e pontos de acesso à disposição. A disposição do próprio tribunal também conta: o TSE tem vasta área de manobra, particularmente pelas competências e atribuições que acumula.
Nesta eleição, os desdobramentos políticos do desempenho do TSE dar-se-ão sob a presidência de Alexandre de Moraes, de quem se espera forte atuação política nos bastidores, mas também respostas céleres e rigorosas nos autos. Tido como severo e centralizador, Moraes possui ampla capacidade de articulação, em razão de sua trajetória profissional sempre ligada à política. O ministro ocupou cargos em diversas administrações do PSDB e do DEM em São Paulo e depois o Ministério da Justiça no governo Temer (MDB).
Vale destacar também a interlocução que mantém com a cúpula das Forças Armadas, o que pode aliviar a tensão entre o tribunal e os militares, que marcou a presidência de seu antecessor – o ministro Fachin. O bom trânsito com a caserna pode contribuir para desincentivar um embarque da corporação em uma aventura golpista de Bolsonaro. Ademais, Moraes segue como relator de ações que, no STF, atingem Bolsonaro e aliados, tal como o inquérito das fake news e o das milícias digitais, o que lhe garante fogo extra no desempenho de sua função de resguardo da posição institucional do TSE.
Com um background jurisprudencial que ajudou a construir pelas decisões que determinaram a remoção de conteúdo falso ou de ataque às instituições de plataformas digitais, Moraes deve ser rápido e assertivo também em relação às fake news e a discursos de ódio que atinjam candidatos.
No contexto dessas eleições, o maior desafio do TSE será o de assumir uma postura ativa e intransigente na defesa do processo e das instituições eleitorais – e da democracia brasileira -, sem tornar-se, ele mesmo, um player na disputa. A estratégia a ser adotada talvez seja associar assertividade na desarticulação estrutural das redes de desinformação e violência político-institucional com a contenção na arbitragem, ponto a ponto, dos atos de campanha de Lula e Bolsonaro. O calibre, no entanto, deverá ser modulado desde o primeiro dia de campanha até a declaração do resultado, com vistas a assegurar a legitimidade do processo e conter os riscos à democracia brasileira.
Marjorie Marona é professora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT IDDC (Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação). Graduada e mestre em direito, possui doutorado em ciência política. É coorganizadora de “Justiça e Democracia no Brasil na América Latina: para onde vamos?” e coautora de “A política no banco dos réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil”.
Vitor Marchetti é cientista político e professor da graduação e da pós-graduação em políticas públicas da UFABC (Universidade Federal do ABC). É autor do livro “Justiça e Competição eleitoral” (EdUFABC, 2015).
Fábio Kerche é doutor em ciência política pela USP (Universidade de São Paulo) e professor da Unirio. Foi pesquisador visitante na New York University e na American University (EUA). Foi pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autor, entre diversas publicações, do livro “A política no banco dos réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil”, escrito em parceria com Marjorie Marona.
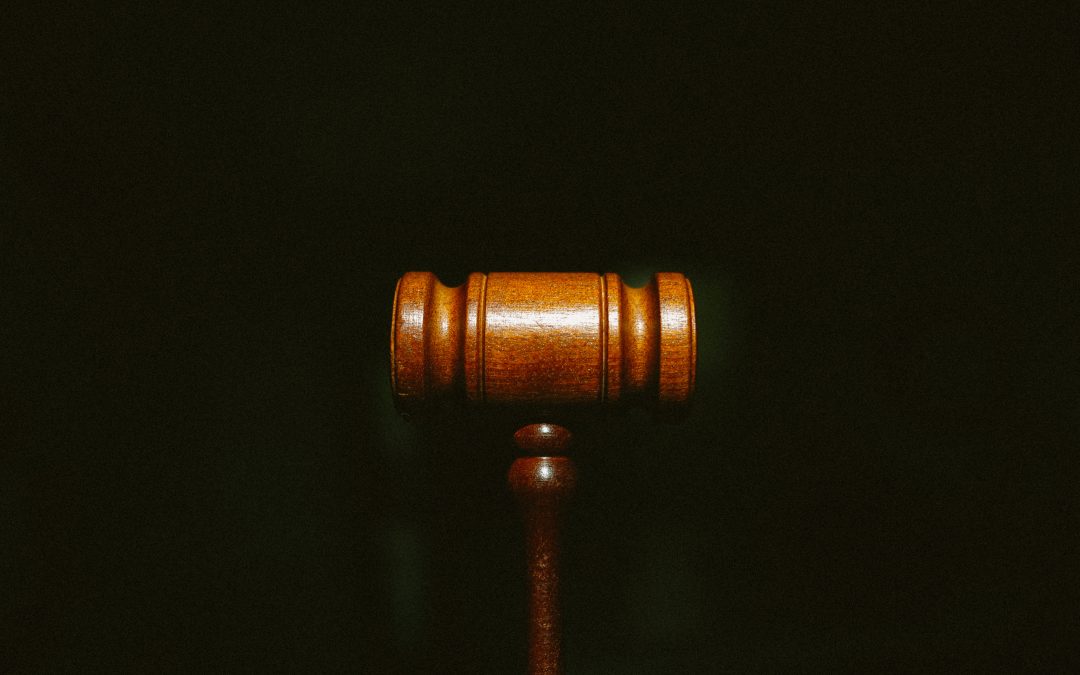
por Marjorie Marona
Façamos Justiça à Justiça Eleitoral brasileira.
Marjorie Marona e Fábio Kerche*
A Justiça Eleitoral brasileira organiza e regulamenta as eleições, além de funcionar como árbitro de disputas relativas ao processo eleitoral. É esse ramo do Poder Judiciário, com auxílio do Ministério Público, que distribui as urnas por todo o território, seleciona e treina mesários, conta os votos, decide sobre os horários em que as sessões funcionarão no dia da votação, autoriza um cidadão a ser candidato ou decide se um partido está abusando da liberdade de expressão ao falar de um adversário, por exemplo. Portanto, ainda que as eleições sejam sobre candidatos, partidos e eleitores, no Brasil os juízes e promotores eleitorais são peças fundamentais para que o processo seja justo e competitivo.
Como qualquer opção institucional, esse modelo, que centraliza a governança eleitoral na autoridade judicial, tem vantagens e desvantagens. Por um lado, garante que atores não diretamente envolvidos na disputa eleitoral funcionem como árbitros do processo, induzindo a condução imparcial do pleito e evitando o desvirtuamento do real resultado das eleições. Por outro, estende ao ramo eleitoral da Justiça – talvez o que mais diretamente lida com o mundo político – a discricionariedade de que juízes e promotores gozam em tantas outras dimensões de atuação. Como decorrência, a previsibilidade sobre o desempenho da Justiça Eleitoral resta prejudicada: são 2.622 juízes e pelo menos mais 2.000 promotores eleitorais decidindo livremente sobre incontáveis questões eleitorais em todo o território nacional. A Justiça Eleitoral carrega, portanto, todas as vantagens e as desvantagens típicas do modelo de organização do Judiciário e do Ministério Público brasileiros.
A magnitude e a complexidade da Justiça Eleitoral brasileira tornam bastante árdua a tarefa de avaliar seu desempenho que, a cada pleito, tem-se tornado mais grave, em parte pelas razões estruturais já aduzidas, ligadas ao nosso modelo de governança. A judicialização das eleições – fenômeno que a editoria de Justiça e Eleições do Observatório das Eleições pretende desvendar no pleito desse ano – não é, portanto, inédito. Seja porque milhares de agentes do sistema de justiça são envolvidos no processo eleitoral, seja pela larga abrangência de sua atuação, ou em razão dos variados instrumentos processuais e múltiplos pontos de acesso à Justiça Eleitoral. O fato é que cada uma das etapas de construção da representação política eleitoral carrega oportunidades de judicialização. E a Justiça Eleitoral pode, evidentemente, funcionar bem em uma dimensão de atuação e apresentar um desempenho mais ou menos problemático em outra. É possível, por exemplo, que a implementação e o gerenciamento da disputa eleitoral, que envolve o credenciamento dos eleitores e dos candidatos, a coleta e contagem dos votos e a publicação dos resultados e diplomação dos eleitos seja amplamente festejada, enquanto críticas tão contundentes quanto acertadas sejam dirigidas à adjudicação judicial de conflitos eleitorais.
As críticas à Justiça Eleitoral acompanham, portanto, o desenvolvimento do próprio fenômeno da judicialização das eleições. Dirigem-se, especialmente, ao gigantismo que a intervenção judicial pode assumir no processo eleitoral, mas também à instabilidade que pode ser gerada. Uma Justiça que escrutina e tutela obstinadamente as virtudes do voto flerta com a possibilidade de obstrução da mais livre manifestação da preferência do eleitor, ameaçando inclusive as manifestações mais criativas de construção da representação política. Essencialmente, cria assimetria onde deveria preveni-la: na competição político-eleitoral.
Não são dessa natureza os ataques que vêm sendo desferidos às instituições que organizam a competição político-eleitoral no Brasil. O ainda presidente Jair Bolsonaro e sua turba de apoiadores mais desatinada, em posição diametralmente oposta daqueles que apresentam críticas embasadas a aspectos do desempenho da Justiça Eleitoral, visando ao aperfeiçoamento da institucionalidade democrática, têm recorrido a uma retórica violenta. Estas acusações são alicerçadas em inverdades que visam, justamente, à deslegitimação do processo eleitoral – coração da nossa democracia. Trata-se de uma estratégia já mapeada pela literatura dedicada à compreensão dos processos de erosão democrática pelo mundo, marcada pela ascensão de novos aspirantes à liderança autoritária, e emulada por Bolsonaro.
O centro nervoso das investidas antidemocráticas são as suspeições infundadas que recaem sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas diante de virtuais hackeamentos e outros atentados fraudulentos. A Justiça Eleitoral responde, firme e rigorosamente, a cada um dos embustes – e não apenas por meio de comunicados oficiais, como se viu obrigada a emitir diante da recente reunião que Bolsonaro promoveu com dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto, mas também por meio de ações técnicas e políticas. A área de tecnologia e informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, passou por renovações importantes no último ano. Ainda em 2021, o TSE criou uma comissão para ampliar a fiscalização e a transparência do processo eleitoral, apostando na participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas como meio de resguardar a integridade das eleições. Em outra frente, instituiu, em caráter continuado, o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação na Justiça Eleitoral. Este conta com mais de 154 parceiros, como redes sociais e plataformas digitais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outros. Todos dividem com a Justiça Eleitoral as tarefas de monitorar notícias falsas, combatendo a desinformação com informação correta sobre a questão abordada, ampliar o alcance de informações verdadeiras e de qualidade sobre o processo eleitoral e capacitar a sociedade para que saiba identificar e denunciar conteúdos enganosos.
Essas e outras iniciativas de enfrentamento à campanha de descrédito das eleições são resultado de uma coalizão bastante peculiar entre os três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com assento no TSE – Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes -, algumas vezes em articulação inclusive com o corregedor-geral da Justiça Eleitoral. As reações mais agudas até agora envolveram, inclusive, a abertura de um inquérito administrativo na Justiça Eleitoral contra Bolsonaro, cujos desdobramentos são incertos – embora devesse preocupar o presidente. O fato é que no TSE paira certo temor sobre o nível da violência política que pode eclodir no dia da eleição ou, em caso de derrota de Bolsonaro nas urnas, no momento pós-eleitoral, que engloba a diplomação do vencedor.
Para neutralizar as possíveis investidas mais violentas dirigidas ao TSE, organizou-se uma estrutura antiatentado que envolve a filmagem por câmeras da sala-cofre, onde os votos ficam registrados, que está protegida contra incêndio, alagamento, radiação e terremoto. Restam descobertos os cidadãos brasileiros, à mercê do produto imperscrutável da convergência perversa entre o discurso de ódio e de fraude eleitoral que ecoam no Palácio do Planalto: a violência pós-eleitoral, na forma de caos social está na mesa nessas eleições.
O cenário exige, portanto, enorme responsabilidade dos analistas do desempenho da Justiça Eleitoral no Brasil. Ninguém está acima das críticas, mas elas devem ser embasadas. A Justiça Eleitoral está sendo atacada justamente naquilo que só mereceria elogios.
* Marjorie Marona é professora da UFMG, coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT IDDC. Graduada e mestre em Direito, possui doutorado em Ciência Política. É coorganizadora de Justiça e Democracia no Brasil na América Latina: para onde vamos? e coautora de A Política no banco dos réus: a Lava-Jato e a erosão da democracia no Brasil.
* Fábio Kerche é doutor em Ciência Política pela USP e professor da Unirio. Foi pesquisador visitante na New York University e na American University. Foi pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autor, entre diversas publicações, do livro A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil, escrito em parceria com Marjorie Marona.

por Marjorie Marona
Eleições e Justiça sob ataque: o que pensam os brasileiros?
Marjorie Marona e Lucas Magalhães *
No último dia 18 de julho o presidente Jair Bolsonaro reuniu dezenas de embaixadores no Palácio do Planalto, manufaturando audiência para mais um ato de sua obstinada investida contra a democracia brasileira. Enfileirando inverdades acerca da lisura do processo eleitoral no Brasil – horas depois desmentidas em nota oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o ainda presidente consolidou sua desfaçatez antidemocrática diante de uma plateia desconcertada embora não de todo surpresa.
Repetiu a dose uma semana depois, dessa vez pregando para convertidos. Durante a convenção nacional do PL realizada no Maracanãzinho para homologar a sua candidatura à reeleição, Bolsonaro, desta vez mirando o Supremo Tribuna Federal (STF), conclamou os presentes para um ato no feriado de 7 de setembro, nos mesmos moldes golpistas do que havia dirigido no ano passado, quando a turba alucinada, aos brados, clamou pelo fechamento da corte.
Bolsonaro vem seguindo o roteiro das novas lideranças autocráticas desde o primeiro dia de seu governo. E se o processo de erosão democrática que afeta o Brasil antecede sua chegada ao poder, é certo que desde então vem se intensificando justamente a partir do Executivo. Pessoalmente, o capitão performa ataques sistemáticos ao STF e seus ministros com vistas a afrouxar todo e qualquer controle que possa recair sobre sua agenda iliberal. Carente de meios institucionais para avançar concretamente sobre a independência judicial, Bolsonaro tem apostado em uma retórica violenta que atenta contra a legitimidade da corte, na expectativa de que a opinião pública, insuflada por sua verborragia autoritária, possa realizar a tarefa da qual ele próprio não consegue se desincumbir.
Não se quer dizer com isso que Bolsonaro espere que a população enraivecida vestindo camisas da CBF tome de assalto o STF e expulse os ministros dos seus gabinetes. A independência judicial, como a democracia, morre aos poucos. Jogando a opinião pública contra a corte, o que o presidente visa é o desgaste da legitimidade e da confiança na instituição, o que diminui os custos políticos de uma eventual investida institucional contra o Judiciário, seja no formato de impeachment, aposentadoria ou o clássico “empacotamento”.
A legitimidade judicial não é inesgotável – aliás, é volátil. Isso torna as cortes constitucionais dependentes, em certa medida, da percepção pública acerca de seu desempenho. Funciona assim: os tribunais acumulam confiança pública gradativamente a partir da percepção de que os magistrados detêm autoridade para decidir de forma vinculante, o que, em parte, deriva da crença de que sejam imparciais. Não é por outra razão que na última rodada da pesquisa A Cara da Democracia no Brasil, do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação – INCT/IDDC, observou-se que a confiança no STF caminha de mãos dadas com a percepção de sua imparcialidade. Dentre aqueles para quem o STF sempre é absolutamente imparcial, 51% confiam muito ou mais ou menos na corte contra apenas 36% daqueles que acreditam que o STF sempre atua no interesse dos políticos e/ou dos mais ricos e poderosos.

De outra parte, contudo, a legitimidade judicial provém de uma avaliação sistêmica, assente em um paradoxo constitutivo da própria democracia constitucional: a existência e operação regular de uma rede institucional de controle sobre o exercício do poder político – destacando-se as cortes constitucionais – que suscita confiança institucional; mas, a ativação frequente desse complexo tende a gerar desconfiança. E a desconfiança pública generalizada implica risco à legitimidade democrática. Quer dizer, democracias com melhores índices de confiança nos atores e nas instituições judiciais estão supostamente mais consolidadas do que outras.
De fato, os resultados da pesquisa A Cara da Democracia no Brasil indicam que as atitudes mais favoráveis ao Judiciário por parte do público estão associadas ao apoio à democracia. Dentre os que preferem a democracia a qualquer outro regime, 67,8% acreditam que o STF é muito importante para o seu funcionamento. Essa proporção cai para 55,6% e 54,7%, respectivamente, entre os subgrupos de entrevistados que são indiferentes em relação aos regimes ou que, em algumas circunstâncias, preferem uma ditadura. Na mesma direção, quando se considera o grupo que é contrário à possibilidade de ruptura institucional, 72,8% enxergam o STF como muito importante para o funcionamento da democracia contra 56,3% daqueles que acreditam que um golpe militar seria justificável em alguma circunstância.
Entretanto, embora muitos (60,8%) reconheçam a importância do STF para o funcionamento da democracia, é bem menor o grupo que classifica como imparcial o seu desempenho (48,9%). O descompasso entre os dois indicadores parece evidenciar a percepção crítica do público em relação à atuação mais recente da corte – e de seus ministros – sem comprometer, até aqui, a percepção acerca da importância da instituição para o funcionamento da democracia.
A impressão negativa em relação ao desempenho da corte não pode ser inteiramente creditada aos apoiadores do presidente, contudo. É bem verdade que aqueles que avaliam como ótimo ou bom o Governo Bolsonaro são os mais descrentes em relação à imparcialidade do STF. No entanto, aqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo também rejeitam em larga escala a visão do Supremo como uma instituição imparcial. São justamente os que acham regular a atuação do governo os que possuem a maior percepção de imparcialidade do Judiciário. Nos dois extremos – dentre os que aprovam e, também, dentre os que reprovam o governo – o STF sofre mais com as críticas à sua atuação marcadamente conjuntural.
Um padrão bastante similar emerge da análise da associação entre a satisfação com a democracia e a percepção de imparcialidade do STF. Aqui também os que se declaram moderadamente satisfeitos/insatisfeitos com a democracia são os que têm a maior percepção de imparcialidade do Judiciário. Novamente, nos extremos, o STF enfrenta os maiores desafios em face às críticas ao seu desempenho. Esse conjunto de dados parece indicar a politização do debate acerca da imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. A memória da atuação do STF na Lava Jato, de seu envolvimento direto com os episódios mais dramáticos da história política recente do país, tais como o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula, ainda ecoam na cabeça dos brasileiros e fragilizam a corte em face das investidas de um presidente que, favorecido pela atuação conjuntural da corte, agora tenta impedi-la.
De modo não muito ortodoxo, o STF resiste, seja por investidas individuais de seus ministros, seja por meio de ações mais concertadas que buscam a um só tempo impor limites aos arroubos autoritários de Bolsonaro e defender a institucionalidade constitucional democrática. Como parte deste movimento, recentemente, a corte passou a dividir mais do que ministros com o Tribunal Superior Eleitoral; iniciou uma série de movimentos de profilaxia das eleições, antevendo manobras fraudulentas de algumas campanhas eleitorais já detectadas em 2018, voltadas à disseminação de fake news e à generalização de um contexto de desinformação que beneficiaram Bolsonaro. Formou-se uma coalizão entre os ministros do Supremo com assento no TSE visando a atuação mais incisiva da justiça eleitoral em resposta à estratégia que, aliás, é compartilhada pelos novos autocratas mundo afora com o objetivo garantir sua permanência no poder, consolidando sua agenda iliberal.
Bolsonaro reagiu tornando o Tribunal Superior Eleitoral seu alvo preferencial. Mas, enquanto os ataques ao STF desvelam pretensões de insulamento do governo em face dos controles institucionais, os ataques ao TSE visam a imunização em face da competição política eleitoral. Bolsonaro sinaliza, portanto, a sua intenção de permanecer no poder independentemente do apoio das urnas. Para tanto, necessariamente, deve desacreditar a Justiça Eleitoral, pois as eleições no Brasil são concentradas na autoridade judicial; quer dizer, a Justiça Eleitoral, em cujo ápice encontra-se o TSE, acumula funções de governança eleitoral que a posiciona como relevante ator na disputa eleitoral.
Não por acaso, a maior confiança no resultado das eleições está associada a atitudes mais favoráveis ao Judiciário. Dentre os entrevistados que “confiam muito ou mais ou menos” que a contagem de votos nas eleições do Brasil é feita de maneira honesta, 56,8% também “confiam muito ou mais ou menos” no STF. Por outro lado, entre os que não confiam na contagem de votos, apenas 24,2% “confiam muito ou mais ou menos” no STF. Ainda, a Justiça Eleitoral conta com maior apoio público do que o Supremo Tribunal Federal. Enquanto 60% dos entrevistados percebem o STF como muito importante para a democracia e 48,9% o julgam como imparcial, 66% avaliam a Justiça Eleitoral como uma instituição fundamental para democracia e 58,2% a julgam como imparcial.
Isso não implica dizer que retomaremos o quadro de absoluta calmaria que envolveu os trabalhos de governança eleitoral da justiça entre 1988 e 2014 – quando Aécio Neves questionou o resultado das eleições presidenciais, sem qualquer indício de fraude, abrindo a caixa de Pandora. Ao contrário, é possível que os ataques retóricos se tornem físicos e disseminados, especialmente entre outubro e dezembro, da votação à diplomação do vitorioso. Para tanto o TSE tem, também, se organizado. Com a experiência de gestão de crise que agregaram pela realização de eleições em meio à pandemia de COVID-19, os ministros e técnicos do Tribunal Superior Eleitoral seguem um minucioso planejamento que os guia até a proclamação do resultado das eleições. Resultado que deve expressar a vontade popular – e nada mais.
Marjorie Marona é professora da UFMG, coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT IDDC. Graduada e mestre em Direito, possui doutorado em Ciência Política. É coorganizadora de Justiça e Democracia no Brasil na América Latina: para onde vamos? e coautora de A Política no banco dos réus: a Lava-Jato e a erosão da democracia no Brasil.
Lucas Fernandes de Magalhães é mestre em Ciência Política pela UFMG e bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC/BH.